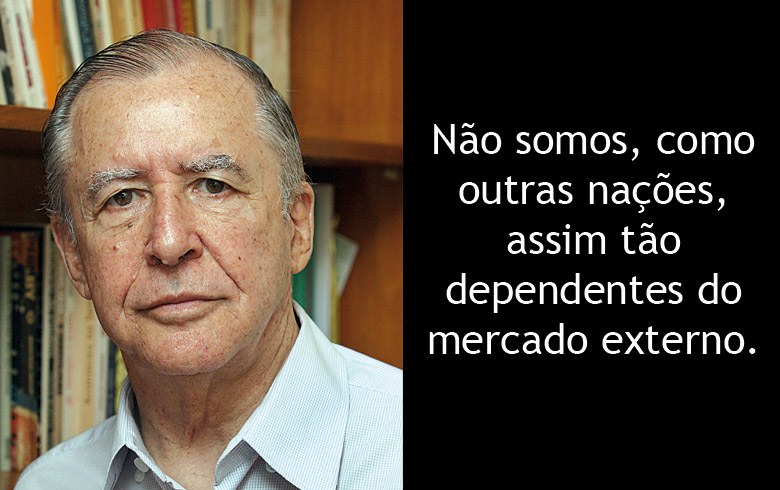A história é reescrita
A Comissão Nacional da Verdade reage a críticas e expande atividades em rede que inclui colegiados estaduais e temáticos. Chegar a muitas verdades pode ser melhor do que a nenhuma
Publicado 15/06/2013 - 11h06

O coordenador Paulo Sérgio Pinheiro faz balanço de um ano da Comissão Nacional da Verdade
Uma ironia ocorreu recentemente na Comissão Nacional da Verdade (CNV): um ex-agente do período autoritário questionou o poder de convocação do colegiado e, para isso, pediu habeas corpus, instrumento básico de direitos humanos suspenso justamente pela ditadura – em 13 de dezembro de 1968, conforme o artigo 10 do AI-5. Com um ano de funcionamento completado em 16 de maio, a CNV ganhou prazo maior para apresentar seu relatório, o que deverá ocorrer no final de 2014, e lida com contradições e dificuldades.
Mas um fato nem sempre lembrado é que ela não atua de forma isolada. Dezenas de comissões e centenas de pessoas pelo país têm buscado documentos e colhido depoimentos, acumulando dados para que se pense no passo seguinte, que inclui a identificação de responsabilidades. A nova coordenadora da comissão é Rosa Cardoso – o colegiado adota sistema de rodízio e já teve à frente Gilson Dipp, Claudio Fonteles e Paulo Sérgio Pinheiro.
Como adiantou Rosa, uma das prioridades daqui em diante é a realização de audiências públicas nos estados. “A CNV precisa ter espécies de subseções”, afirmou, durante balanço divulgado em 21 de maio. “Agora, temos de entrar em ritmo de campanha.”
O deputado federal Nilmário Miranda (PT-MG), ex-ministro de Direitos Humanos, observa que a CNV “está conseguindo sistematizar informações que já existiam” e destaca o aspecto “educativo” do processo. O jornalista Eric Nepomuceno vê “pressões naturais”, mas se mostra otimista. “De um lado, há os responsáveis por crimes de lesa-humanidade, que são imprescritíveis, embora sua impunidade esteja assegurada por uma decisão esdrúxula da Corte Suprema (leia quadro abaixo).
De outro, os que reclamam, com razão, que se resgate a memória, se estabeleça a verdade e se faça justiça. Creio que durante um longo tempo a atuação da Comissão da Verdade foi apenas morna. Mas o cenário mudou. Sinto maior agilidade, maior transparência. O papel da comissão é limitado, mas fundamental, e creio, sim, que finalmente está sendo cumprido.”
Até maio, pelo menos dez comissões estaduais haviam sido instaladas. A do Espírito Santo iniciou atividades nos últimos dias do mês, enquanto a do Rio Grande do Sul já acumula oito meses de trabalho e a de São Paulo, um ano. Estão funcionando colegiados no Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pará, Pernambuco, Maranhão e Paraíba. Há ainda comissões municipais e temáticas, envolvendo categorias profissionais, como advogados, jornalistas e metroviários, e outras instaladas em universidades. Na própria CNV foi formado um grupo específico que apura a repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical – a CUT montou recentemente uma comissão.
A do Rio, por exemplo, trabalha com o número de 111 mortos e desaparecidos durante a repressão. Tem casos emblemáticos a apurar, como o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, em 1971, as bombas no Riocentro e na seccional da Ordem dos Advogados Brasil (OAB). Sobre esse episódio, de 1980, “já temos uma linha de investigação aparentemente segura”, conta o coordenador da comissão fluminense, Wadih Damous. As apurações incluem ainda a chamada Casa de Petrópolis ou Casa da Morte, um centro de torturas na região serrana, e podem avançar para a descoberta de outra “casa”, em São Conrado, bairro da zona oeste.
“Vamos trabalhar em conjunto (com a CNV) para saber de que forma a comissão estadual pode ajudar a complementar esse trabalho”, diz Damous. Ele lembra que a comissão nacional não tem caráter de punição, atribuição que cabe ao Judiciário. “Seria uma comissão de exceção. O trabalho é apurar, revelar e produzir um relatório. Pedido de punição ficará a cargo do Ministério Público ou dos familiares.”
O advogado lamenta o posicionamento dos atuais comandantes das Forças Armadas. “Infelizmente, no Brasil, os círculos militares são quase intocáveis, o que é um déficit da democracia brasileira. Acho que seria do interesse (das próprias instituições)”, afirma. “Não consigo entender qual o interesse das Forças Armadas de não colaborar com as investigações.”
Sangue
É esse o ponto de vista do defensor público Carlos Frederico Guazzelli, coordenador da Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul. “Não se estão investigando crimes institucionais. Estão-se apurando os crimes cometidos para sustentar a ditadura. Esse sangue não suja as mãos dos militares de hoje nem da maioria dos militares daquela época”, afirma.
Para ele, a comissão nacional tem sofrido “críticas injustas” de quem deveria apoiar seu trabalho. “Existe sempre uma tensão entre o que as organizações sociais querem e a investigação. O trabalho é altamente produtivo. Não cabe à CNV ser criticada pelo fato de o processo ter começado tardiamente em relação a outros países.”
Como coordenador da comissão gaúcha, Guazzelli ressalta o perfil do coletivo. “Não tem caráter persecutório nem judicial. Não é Ministério Público, nem polícia judiciária, nem Justiça. O que sobrou é fazer esse trabalho de organização dos dados existentes para fazer o relatório das graves violações de direitos humanos naquele período.” Isso não impede desdobramentos, acrescenta: “O país pode tomar decisões políticas no futuro, responsabilizando pessoas e instituições”.
Ao divulgar seu balanço de um ano de atividades, em 21 de maio, a CNV avançou na identificação de responsáveis, apresentando documento do Centro de Informações da Marinha (Cenimar), de dezembro de 1972, com um prontuário de pessoas mortas. A lista, cruzada com outro documento, do Ministério da Justiça, confirma 11 mortes, incluindo a do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido em janeiro de 1971 – são 12.072 páginas a respeito do assunto. Mas em 1993, mediante solicitação do então presidente, Itamar Franco, a Marinha informou que Paiva e outros estavam foragidos.
“O fato é que a Marinha brasileira ocultou deliberadamente documentos e informações já durante o período democrático”, afirma a professora Heloísa Starling, assessora da comissão, que divulgou ainda um organograma da repressão – apontando ligação direta com os comandos militares.
Tortura
Além disso, a investigação preliminar fez a CNV concluir que a tortura não consistia em algo pontual, mas já era prática sistemática desde 1964, e não apenas após o AI-5, embora o número de denúncias tenha se multiplicado – de 148, em 1964, para 1.027 em 1969. “A prática da tortura está na origem da ditadura”, diz Heloísa. O balanço parcial aponta 36 centros de tortura, sendo 16 no Rio, incluindo universidades e refinarias.
No Rio Grande do Sul, o pedido de exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, formalizado pela família durante audiência em março, é um dos objetos da comissão estadual. Mas Carlos Guazzelli cita ainda atividades relacionadas à Operação Condor, política de cooperação entre ditaduras do continente. Outro fato investigado é o que o coordenador gaúcho chama de “Porto Alegre sob terror”, no início dos anos 1970. “Os agentes da repressão se estabeleceram aqui para investigar o sequestro do cônsul americano”, lembrando da tentativa de captura do diplomata Curtis Cutter, em abril de 1970.
No Maranhão, um dos focos é o trabalhador rural, lembra o coordenador da comissão, o deputado estadual Bira do Pindaré (PT). “O Maranhão foi um dos estados com mais vítimas camponesas durante a ditadura. Fala-se em mais de 140 que teriam sido vitimadas no campo”, conta. Para ele, as dificuldades da comissão nacional eram previsíveis. “É uma investigação complexa. Houve uma dificuldade metodológica, no sentido de como sistematizar tanta informação. Mas isso me parece que já está equacionado. Acredito que teremos um grande relatório. A produção vai aparecer no tempo devido”, avalia, somando-se aos colegas fluminense e gaúcho em relação à expectativa por punições, uma atribuição que não é da CNV. “Isso vai ser o momento posterior. Depois vamos ter os desdobramentos. É um debate que a sociedade vai ter de fazer.”
O relatório final será “contundente”, garantiu o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Na divulgação do balanço, ele aproveitou para reagir a críticas e chamou de “choradeira” a reclamação sobre uma possível demora na criação da CNV, destacando a existência de recursos tecnológicos que as comissões do século 20 não puderam utilizar. Rebateu críticas sobre disputas internas (“Não tem Fla-Flu”) e disse que a comissão dará ênfase a audiências públicas. Algumas audiências podem ser confidenciais, comentou, mas “não é por isso que somos a favor do segredo”.
Segundo Pinheiro, o diálogo com os três comandos militares continua. Ele não revelou a fonte do documento do Cenimar: “Não foi a Marinha que deu”. Ao responder se a comissão já havia exposto o caso às Forças Armadas ou à própria presidenta Dilma Rousseff, Rosa Cardoso foi cautelosa, mas deu sinalizações: “Há questões que, para o avanço do nosso trabalho, não devem ser respondidas”. E acrescentou: “Agradeço a pergunta e acho que ela é indicadora de caminhos”.
Mansidão
O deputado Adriano Diogo (PT), presidente da Comissão da Verdade paulista, que ganhou o nome de Rubens Paiva, acredita que a chegada da advogada Rosa Cardoso à coordenação da CNV será um divisor de águas, considerando também bem-vinda a prorrogação do prazo. Ele pede um papel mais incisivo da comissão, que para o parlamentar “tem de ser a coordenadora de todas as comissões e comitês” e “assumir esse passivo dos cemitérios, dos sítios de memória”. Mas nem toda crítica pode ser atribuída à CNV, observa Diogo, fazendo menção à “transição mansa e pacífica” brasileira.
A comissão paulista tem se notabilizado pelas audiências públicas, realizadas praticamente todas as semanas, recolhendo dezenas de testemunhos de vítimas. No início de maio, por exemplo, participaram a viúva de Virgilio Gomes da Silva, dona Ilda, e um dos filhos do militante, também chamado Virgilio. Foi um relato doloroso especialmente nas memórias da infância, quando ele e os irmãos ficaram sem o pai e foram separados durante meses da mãe, que estava presa. Os quatro filhos, incluindo a caçula Isabel, com apenas alguns meses, ficaram sob custódia do Estado, no Juizado de Menores, e depois foram morar cada um com um parente. Reencontraram-se semanas depois, na casa de tios em São Miguel Paulista, zona leste paulistana.
“Quem poderia imaginarque uma pessoa como Brilhante Ustra sentasse não no banco dos réus, mas numa Comissão da Verdade? Acho que ele se sentiu humilhado”. Wadih Damous, coordenador da comissão fluminense
As próprias crianças chegaram a ser interrogadas. “Provavelmente meu pai já estava sendo morto. Acho que era mórbido, doentio. Continuavam perguntando pela pessoa que já tinham matado”, lembrou Virgilio, que morou com a família no Chile até se estabelecer em Cuba. Na volta, em 1994, passou meses desempregado. Hoje, aos 50 anos, tem uma pequena metalúrgica. “Nós vivemos uma prisão sem ser presos”, afirma. Para ele, a CNV tem poder para fazer muita coisa: “Para afastar torturadores de cargos públicos, para constar dos livros de História”. Não importa quanto for preciso escavar, diz Virgilio: é preciso chegar aos restos mortais dos desaparecidos.
O presidente da Comissão da Verdade de Pernambuco, o advogado e ex-deputado Fernando Coelho, credita as críticas, em parte, a um “anseio de justiça muito grande por parte daqueles que foram atingidos direta ou indiretamente pela repressão”. Um anseio justificado, admite: “Há um dever do país de dar uma resposta aos que foram injustiçados nesse período. Até hoje, a última palavra do Estado não era verdadeira, era uma versão falseada dos fatos. Teremos uma verdade oficial verdadeira”.
A comparação com outros países, como a Argentina, causa frustração, concorda Nepomuceno. “Da mesma forma que incomoda e ofende a resistência não apenas de comparecer a audiências e dizer a verdade, mas também de entregar documentos. Mesmo assim se está conseguindo avançar alguma coisa. Talvez não surja nenhuma denúncia inédita, mas só de conformar e comprovar o que já se sabe é um avanço”, diz. Em 17 de maio, quando Rosa Cardoso assumia a coordenação da CNV, o ex-ditador Jorge Videla morria em uma prisão na Argentina.
“Quem poderia imaginar que uma pessoa como Brilhante Ustra sentasse não no banco dos réus, mas numa Comissão da Verdade?”, lembra Damous. “Acho que ele se sentiu humilhado.”
Um nó chamado anistiaEm 1979, o advogado Fernando Coelho era deputado federal reeleito por Pernambuco, um dos chamados “autênticos” do MDB, partido consentido de oposição à ditadura. Primeiro vice-líder do partido, lembra bem das circunstâncias que envolveram a aprovação da Lei nº 6.683, conhecida como Lei de Anistia. “Posso assegurar que não houve nenhum acordo, como hoje se dá de debater, entre oposição e governo. A anistia nunca houve em termos de um acordo. Nem foi concessão do governo”, afirma o atual coordenador da Comissão da Verdade pernambucana. Para ele, o que ocorreu foi uma “manobra da ditadura para ganhar sobrevida”. O debate sobre a lei ganhou corpo em 2010, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um pedido de revisão feito pela OAB para anular o perdão a agentes do Estado acusados da prática de tortura durante a ditadura. E voltou agora, com a Comissão da Verdade. Alguns de seus representantes, como a atual coordenadora, Rosa Cardoso, e seu antecessor, Paulo Sérgio Pinheiro, defendem abertamente uma revisão. Rosa observa, no entanto, que isso não é atribuição da CNV, embora possa fazer parte das recomendações do relatório final. A presunção de que a anistia foi resultado de acordo, no sentido da conciliação, teria induzido o Supremo a erro, acredita Coelho: “Não recordo de um discurso, dos mais de mil proferidos entre MDB e Arena, que fale de acordo. Anistia dava cadeia e virou generoso ato de liberalização do governo”. “Essa lei foi imposta no crepúsculo da ditadura. Foi o que se conseguiu na época, foi extremamente útil, mas não tem razão de ser na democracia estabelecida”, diz Eric Nepomuceno. “O comportamento do Supremo Tribunal Federal é inexplicável. Seus integrantes legitimaram uma impunidade abjeta e ignoraram acordos internacionais assinados pelo Brasil. Foi um voto poltrão e indigno. Tenho a firme esperança de que mais cedo que tarde essa decisão seja revista.” A argumentação é de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos trata os crimes de lesa-humanidade como imprescritíveis. O Brasil, inclusive, já foi condenado pela CIDH. Essa é a expectativa do coordenador da comissão do Rio, o advogado Wadih Damous. “Depois do julgamento do STF, acho que o único caminho é a revisão da Lei de Anistia. Politicamente, o caminho será esse.” O argumento básico de quem questiona tanto a Comissão da Verdade como uma possível revisão da Lei de Anistia é que o “perdão” valeu para todos. A simples menção da expressão “dois lados” deixa indignado o coordenador da Comissão da Verdade gaúcha, Carlos Guazzelli. “Não tem dois lados. O Superior Tribunal Militar julgou, absolveu, condenou a todos que resistiram e nunca resistiram. Esse lado foi julgado, o outro não. Só há criminosos de um lado, amplamente anistiados pela lei do mais forte. A decisão do STF não se sustenta juridicamente e é vergonhosa.” Há um projeto de lei na Câmara, o 573, de 2011, da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), que propõe retirar da anistia todos os que praticaram crimes de lesa-humanidade. Em maio, uma audiência pública reuniu personagens díspares como o professor Fábio Konder Comparato, o advogado Belisário dos Santos Júnior, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, e o general Luiz Eduardo da Rocha Paiva, que em entrevista já chegou a questionar o fato de a presidenta Dilma Rousseff ter sido torturada durante a ditadura e de o jornalista Vladimir Herzog ter sido morto por agentes do Estado, em 1975. Um dia depois de membros da Comissão da Verdade falarem em uma possível revisão da Lei de Anistia, o governo apareceu no sentido contrário. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, declarou que o Executivo não pensa em nenhuma iniciativa nesse sentido, usando como justificativa a decisão do Supremo. Uma posição que causou mal-estar interno. |
|---|