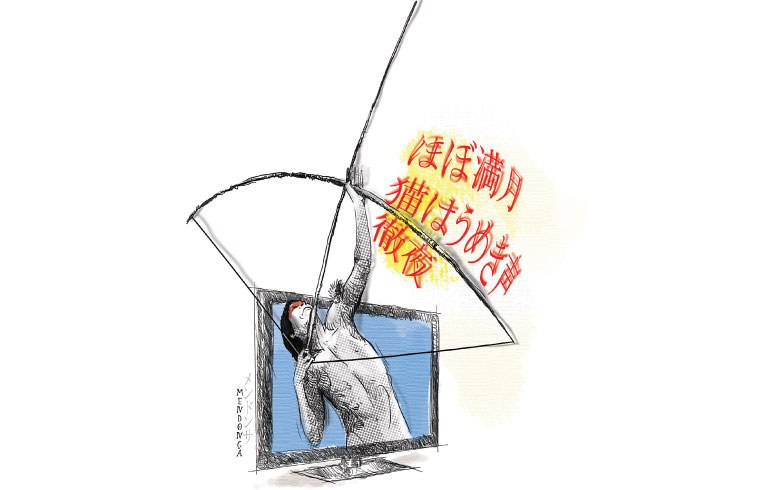Lições da arrogância ocidental na guerra civil na Síria
E as barbeiragens das potências ocidentais, habituadas a sobrepor a força à diplomacia e a impor ao mundo o entendimento de que suas armas são mais legítimas que as dos outros
Publicado 12/10/2013 - 13h20

Mulher protesta em Londres contra intervenção na Síria
O uso do gás sarin nos subúrbios de Damasco comprovou mais uma vez a afirmação de que a melhor maneira de não usar uma arma é não tê-la. Caso ela exista, corre-se o grande risco de que, mesmo que seu proprietário não queira usá-la, algum outro a use.
Ou que ela venha a entrar em ação por acidente. Corrobora o risco o caso recentemente revelado de uma bomba atômica que quase explodiu no estado norte-americano da Carolina do Norte, em 1961, quando o avião que transportava dois desses artefatos partiu-se em pleno ar.
Ou seja, o uso do gás sarin na Síria, um horror em si, é uma advertência para os arsenais atômicos existentes no seleto clube de seus possuidores: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e, ao que tudo indica, Israel.
Além disso, há ogivas nucleares norte-americanas estocadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. A África do Sul chegou a produzir ogivas nucleares durante o regime do apartheid, mas as desmontou depois.
Um segundo recado da crise síria é que os Estados Unidos e seus aliados (Reino Unido e França, sobretudo) perderam a credibilidade para acusar este ou aquele. Não conseguiram convencer nem mesmo a própria população, pois em todos eles o apoio a uma intervenção militar era minoritário. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, passou pelo vexame de ter a proposta de intervenção militar rejeitada pela Câmara Baixa, mesmo com seu Partido Conservador tendo maioria de representantes.
O presidente Barack Obama iria pelo mesmo caminho, caso uma proposta semelhante fosse votada no Congresso norte-americano. Os fatores para essa perda de credibilidade foram tanto o fiasco da alegação de que o governo iraquiano possuía armas de destruição em massa para justificar a invasão do país como o fato de que algumas das intervenções do Ocidente desembocaram num julgamento de fachada (Saddam Hussein no Iraque), num linchamento (Muamar Kadafi na Líbia) ou numa guerra prolongada e aparentemente sem saída (Afeganistão).
Aos anteriores, veio se somar mais um fator para a perda de credibilidade. No fogo cruzado que se estabeleceu para determinar o(s) mandante(s) do uso do gás sarin, os Estados Unidos repetiram ad nauseam ter provas de que a ordem partiu do governo de Bashar Al-Assad, aliás, dele mesmo. Mas essas provas nunca vieram à luz plena do dia, pelo menos até a conclusão desta nota, em 23 de setembro. Houve sessões fechadas de apresentação das ditas cujas para congressistas norte-americanos, mas os relatos subsequentes davam conta de que um expressivo número não se convenceu. Mesmo que elas venham a ser exibidas no futuro, o retardo na sua apresentação traz para a mesa a hipótese de serem forjadas.
Outra lição desse imbróglio vem do método constantemente descrito para a obtenção dessas provas – ou pelo menos de algumas delas: a escuta telefônica.
Isso se deu num momento em que práticas da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos estavam sob denúncias e questionamentos. Tal circunstância roubou impulso e contundência às denúncias norte-americanas, porque o sentimento universal era o da ilegalidade, inadequação, de abuso de poder e outras arbitrariedades em relação a essa espionagem – além de trazer à tona, como no quadro brasileiro, a possibilidade de uso das informações obtidas para outros fins (comerciais, financeiros e industriais) que não apenas os de segurança.
Lição número cinco: quando não se ocupa ou se perde um espaço em matéria de política, alguém virá ocupá-lo. Quem ocupou esse espaço de recuo deixado pelos norte-americanos e seus aliados foi a Rússia. O sempre execrado na mídia ocidental Vladimir Putin, como inimigo das liberdades democráticas e czar da truculência, de repente apareceu como campeão dos direitos humanos (caso Snowden) e como defensor da paz e do equilíbrio internacionais. Putin conseguiu o que parecia impossível: fazer Bashar Al-Assad concordar em entregar suas reservas de armas de extermínio em massa para inspeção e destruição por controle internacional. É verdade que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, também anunciou ter provas da responsabilidade dos rebeldes no uso do gás sem mostrá-las. O anúncio de que essa comprovação estaria sendo colhida pelo Exército sírio não contribui tampouco para sua credibilidade.
Mas, se como consequência dessa iniciativa de resolver o conflito diplomaticamente, em vez de (apenas) pela força das armas, os Estados Unidos e o Irã sentarem para dialogar, como parece que vai acontecer, a credibilidade russa em matéria de política internacional estará em grande parte reafirmada. Sem falar que um movimento dessa ordem poderia criar um novo equilíbrio político, em detrimento da influência que a Arábia Saudita está tentando fortalecer na região. Mesmo a Turquia terá de rever sua posição no tabuleiro.
Enredados em suas violentas disputas internas, retóricas ou até armadas, os rebeldes sírios também perderam pontos em matéria de credibilidade. Tudo parece apontar para serem mais uma colcha de retalhos com cada pedaço seu capitaneado por um “senhor da guerra” de espírito feudal do que um todo articulado cujo principal objetivo seja mesmo a democratização da Síria. Até o momento, foram os maiores perdedores desse intrincado xadrez político.
E o Brasil?
O Brasil entrou no cenário pela lateral. Além das declarações que saúdam as iniciativas diplomáticas em lugar das militares, houve a coincidência de surgirem as denúncias sobre a espionagem norte-americana dos e-mails e telefonemas da presidenta Dilma Rousseff, assim como de informações confidenciais da Petrobras. A presidenta reagiu vigorosamente, exigindo explicações convincentes e depois, na ausência delas, anunciando o adiamento da visita de chefa de Estado que faria aos Estados Unidos em outubro. O governo norte-americano sentiu o golpe, e saiu pela tangente, para evitar a ampliação do estrago, dizendo que o adiamento fora decidido de comum acordo.
Acontece que o episódio e a atitude da presidenta pegaram o colega norte-americano no contrapé. Na circunstância, dependendo do prestígio de seu aparato de espionagem para esgrimir seus argumentos diante dos aliados e da Rússia (também da China), o presidente Barack Obama não podia fazer nenhum movimento para desacreditá-lo ou desautorizá-lo ainda mais. Por isso mesmo, as tais explicações ficaram para as calendas, e a discussão de um protocolo que volte a regular e limitar tais práticas não aconteceu. Ficou para depois. A ver.