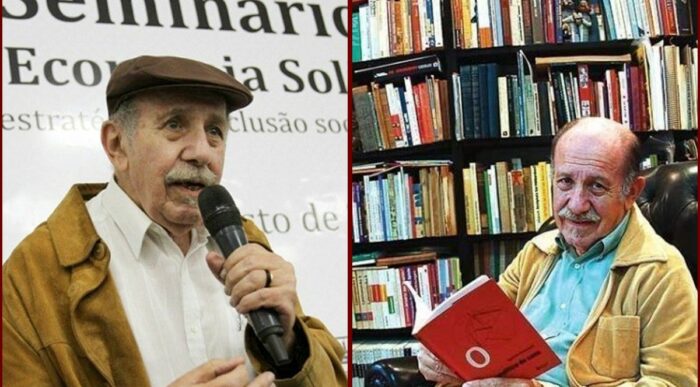Finanças solidárias e desenvolvimento territorial: comunidades e periferias se reinventam na crise econômica
Iniciativas comunitárias e educação financeira fortalecem inclusão, autonomia e cidadania no Brasil
Publicado 31/10/2022 - 18h45

Carmen Lúcia de Matos Barcelo, 62, é artesã e vive com seu marido no bairro de Coqueiros, periferia da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No andar de cima da casa, mora sua filha e dois netos.
Na região, ela é conhecida não apenas por seu trabalho de agente comunitária de saúde como também por ser uma liderança que protagoniza e leva oportunidades a outras mulheres.
Por muito anos, sobreviveu vendendo pirulito, linguiça e coxinha de bar em bar. “Tudo a pé, com carrinho de verdura. Trabalhando de sol a sol.”
Na pandemia, teve de se reinventar. Percebeu tristes coincidências em sua comunidade entre as moradoras de Coqueiros, acentuadas no período de crise: mulheres desempregadas, arrimos de família, abandonadas por seus parceiros, passando fome e dificuldades financeiras.
Em diálogo com elas, formou um grupo, ensinou pintura em tecido e crochê. Uma rede de sustentabilidade foi se desenvolvendo a partir dos saberes locais. Elas passaram a comercializar produtos feitos à mão tanto na região quanto em feiras menores em Belo Horizonte.
Em 2022, já é possível mensurar resultados. “Formamos uma grande rede de apoio e chegamos a um trabalho envolvendo 50 famílias. Em cada feira, as vendedoras conseguem tirar de R$ 400 a R$ 600 em média. Muitas delas viviam em quadros depressivos profundos e hoje estão se movimentando, produzindo e movimentando a economia, conseguindo garantir comida no prato e um teto para morar. Uma cidadania financeira que traz autonomia e autoestima”, afirma.
A depressão identificada nessas moradoras, segundo Carmen, tem relação com a realidade financeira. “A maioria tem apenas o ensino fundamental, não terminou seus estudos, não consegue emprego formal e sobrevive com faxina em bairros melhores. Algumas sofreram abusos psicológicos e sexuais. Muitas foram abandonadas por seus maridos e viram sua vida desabar.”
Uma das mulheres apoiadas por Carmen foi sua própria filha, a artesã e cozinheira Aline Matos, de 39 anos.
Aline produzia esculturas de ‘biscuit’ para festas de aniversário, casamento e outras celebrações. Com o início da pandemia de covid-19, porém, foi um dos setores de eventos mais impactados negativamente.
“No primeiro ano de pandemia, as demandas de trabalho acabaram. No segundo ano, meu marido saiu de casa e fiquei com meus dois meninos. A situação financeira foi piorando. O limite foi o dia em que meu filho falou que a barriga dele estava doendo de fome”, descreve.
Com a ajuda de sua mãe, começou a fazer marmitex, até que surgiu a ideia da rede de apoio e da feira das famílias do bairro, realizada no parque Cevae Coqueiros, o único espaço aberto onde as moradoras puderam se organizar.
Depois de um ano, Aline e Carmen conseguiram comprar um fogão industrial.
“Compramos em várias parcelas e estamos pagando ainda, mas a situação econômica melhorou. Criei a Cooking is love e dei esse nome ao meu empreendimento porque comida é afetividade, ela deve ressaltar a culinária mineira e trazer lembrança, carinho de casa, fazer lembrar de nossas avós ou avôs. Eu me tornei uma referência e sou a única na região que faz o mexidão mineiro”, se orgulha ao falar de um prato típico mineiro que leva virado de arroz, feijão, pernil, entre outros ingredientes.

Alice (à esquerda) e Carmen apresentam o novo fogão industrial para impulsionar o empreendimento criado na comunidade de Coqueiros, em Belo Horizonte (Foto: Arquivo Pessoal)
Ao mesmo tempo em que celebra as novas conquistas, fala sobre relações desiguais diante da crise econômica.
“Quando a gente fala em desigualdade, não tem como não pensar em oportunidades que são dadas a quem já vem de um berço rico, em comparação com quem é da periferia. Ainda ouvimos que as coisas das periferias são as piores, o que não passa de exclusão e preconceito. É como se a gente lutasse para reinventar nossa economia e conquistar espaço o tempo todo”, pontua.
As realidades econômica e social de Carmen, de Aline e das mulheres de Coqueiros não são exceção no país. É o que mostra o relatório “Pobreza e Equidade no Brasil – Mirando o Futuro Após Duas Crises”, lançado em julho pelo Banco Mundial.
Relatório “Pobreza e Equidade no Brasil – Mirando o Futuro Após Duas Crises”
De acordo com o estudo, os pobres e vulneráveis sentiram de forma mais dura as consequências econômicas da pandemia. Diante de um mercado laboral deteriorado, a renda domiciliar advinda do trabalho diminuiu, impactando com maior força os 40% mais vulneráveis da população.
O relatório “Tempos incertos, vidas instáveis: Construir o futuro num mundo em transformação”, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em setembro, também apontou resultados nesse sentido.
Relatório “Tempos incertos, vidas instáveis: Construir o futuro num mundo em transformação”.
O Brasil apresenta queda consecutiva no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, que mede aspectos como educação, saúde e renda de uma nação. O país que antes ocupava a 84ª posição, atualmente é o 87º na lista de 191 países analisados, com base em dados de 2021.
Além disso, o estudo do Banco Central destaca a desigualdade de gênero no contexto social e econômico no Brasil. As mulheres têm participação inferior à dos homens no mundo laboral. Apenas 42% delas estão no mercado de trabalho, o que faz com que as moradoras da periferia de Coqueiros não sejam um caso isolado no país.
Educação financeira nas periferias
A auto-organização das periferias belo-horizontinas chegou até o poder público, que passou a ser cobrado mais de perto, relata a artesã Carmen Lúcia.
Resultado dessa relação foi a criação, em 2020, da Jornada Empreendedora nas comunidades de Belo Horizonte, parte do Programa de Inclusão Produtiva em Vilas e Favelas, com foco no Microempreendedor Individual (MEI), uma parceria entre a prefeitura e o Sebrae.

Em 2022, essa jornada teve início em setembro e seguirá até o dia 10 de novembro. De acordo com a prefeitura, cerca de 300 pessoas já passaram por atividades formativas.
Funciona assim: a gestão municipal faz um trabalho inicial de escuta e diálogo com a população para entender o que os moradores demandam.
“É preciso considerar que, devido ao perfil do público mais vulnerável, o cidadão que participa das jornadas precisa aprender as etapas mais simples para conseguir empreender, como, por exemplo, quais são os caminhos para a obtenção de crédito para o negócio, como se formalizar como MEI ou abrir uma pequena empresa e por aí vai. Nessa construção do aprendizado, é fundamental que eles desenvolvam também as habilidades financeiras e de gestão do negócio”, afirma a prefeitura de Belo Horizonte.
Carmen Lúcia e Aline passaram pela jornada e, a partir dela, começaram a administrar melhor os seus negócios.
“A gente fez pressão para o poder público chegar até aqui e reconhecer a nossa existência. Tem muita gente precisando. Depois do curso de inclusão digital e de empreendedorismo, abri meus olhos, minha empresa, uma conta em um banco digital e passei a administrar melhor tudo isso, ensinando outras mulheres. Ainda sonho com um computador, mas até agora tenho promovido todas essas mudanças usando apenas meu celular”, fala Carmen Lúcia.
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Adriano Faria, ressalta a atuação do governo frente às demandas da população. “O papel essencial do poder público é ser um facilitador para que as pessoas possam ter autonomia para se desenvolverem social e economicamente.”
Professor de Matemática e administrador, Milton Souza, 40, é exemplo de autonomia.
Ele começou a empreender de uma forma diferente antes mesmo de ter participado da jornada em 2022. Construiu um espaço de aulas de reforço no bairro de Cabana, auxiliando no ensino de matemática e de português.
“Eu comecei na cozinha da minha casa, indo de porta em porta, e hoje temos uma média de 100 alunos mensais. Chamo meu curso de EAD, mas não esse que conhecemos à distância. O meu é presencial e tem outro significado. A letra ‘E’ é de ensinar, a ‘A’ é de aprender e a ‘D’ é de diariamente.”
Segundo o professor, 10 mil pessoas foram impactadas pela ação na comunidade onde vive. As aulas se estendem ainda a moradores que o procuram para aprender sobre educação financeira básica e desenvolver seus negócios locais.
“Minha primeira faculdade foi em Administração e foi lá que percebi uma defasagem no conhecimento. Me formei sem saber as operações básicas da matemática, sem saber tabuada. As escolas públicas e os professores são desvalorizados e isso tem consequência no ensino. Precisamos olhar para as periferias. É uma violência não acreditar no potencial das crianças de nossa comunidade”, avalia.
Aos 8 anos de idade, sua filha, Anny Isadora, se tornou auxiliar em sala de aula. Alfabetizada pelo pai, aos 6 anos escreveu o livro “A hora de mudar de escola: como dói”. Souza também publicou a obra “O enigma dos seus olhos: a semeadura de 10 minutinhos EAD para a sua transformação”. Os dois já venderam juntos mais de 1.000 exemplares.
Inspirado no educador Paulo Freire, na perspectiva de que as pessoas se educam mutuamente, mediadas pelo mundo, Souza conta que seus alunos têm de 5 a 73 anos de idade.
“É preciso valorizar a educação e respeitar o jeito de aprender de cada um considerando sua história e toda uma realidade relacionada à inclusão e à desigualdade social.”
Para Souza, não é possível ensinar uma pessoa sem conhecer sua cultura e suas dificuldades.
“Vou até a casa dos meus alunos para ouvir e conversar com os pais, falar de tolerância quanto ao erro de seus filhos, sobre o aprendizado. Para que a gente rompa com todo um sistema de repressão ao erro, que gera um temor nas crianças de dar até mesmo o pontapé. Medo de tentar. Temos que tentar sem medo. Isso é cuidado no ato de ensinar”, ressalta.
No empreendimento de Souza voltado à educação, quatro aulas por mês de reforço em alfabetização e ensino fundamental custam R$ 100, as de ensino médio custam R$ 250 e as de ensino superior R$ 350. A cada 15 alunos, uma bolsa é oferecida a estudantes com dificuldade financeira.
Em paralelo às atividades itinerantes da jornada nas periferias, que promovem trocas com moradores como Carmen, Alice e Souza, o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Adriano Faria, acrescenta que a população tem na Sala Mineira do Empreendedor, dentro do ‘BH Resolve’, um posto fixo disponível na Avenida Santos Dumont, nº 363, 1º andar, no centro, para atendimento em parceria com o Sebrae Minas.
Mesmo assim, Alice destaca alguns aspectos que precisam avançar em 2023. “O Sebrae e a prefeitura têm levado capacitação sobre educação financeira às periferias, mas é um processo que precisa ampliar. Queremos as nossas feiras nas melhores e mais ricas ruas de Belo Horizonte. Porque temos produtores e produtos da mais alta qualidade. É preciso derrubar o monopólio das grandes feiras que privilegiam grandes nomes e ampliar a comercialização de nossos produtos”, conclui.
O que dizem os economistas
Morador de Parelheiros, extremo sul da capital paulista, o economista Cleberson da Silva Pereira, 39, lembra que existem diferenças econômica e social a depender da região.
Especialista em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular e pesquisador do Centro de Estudos Periféricos (CEP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ele assinala que a cidade de São Paulo se destaca de outras grandes cidades por caraterísticas que possui, assim como a sua própria periferia que também tem suas particularidades.
“Tivemos um processo histórico no qual as classes dominantes ocupavam as melhores áreas geográficas, ou mais desenvolvidas economicamente, e os trabalhadores, em busca de reproduzir a vida ou melhorar as condições de vida, ocupavam as áreas circunvizinhas”, explica.
São nessas regiões afastadas do centro onde vive a maior concentração da classe trabalhadora que, em momentos de crise, precisa se reinventar para sobreviver.
“Com as mudanças no mercado de trabalho, na periferia temos os empreendedores que se organizam de forma coletiva e ou individual para produzir bens e serviços e, para que isso aconteça, é necessário ter poupança, ter crédito e organização desse ecossistema.”
Para Pereira, é preciso acabar com qualquer episódio de violação de direitos humanos e problematizar reproduções que culpabilizam e criminalizam a população pobre.
“Os pobres recorrentemente são culpabilizados por estarem fisicamente em um lugar com pouco investimento privado e ou público. O motivo das pessoas estarem nesse lugar com baixo ou nenhum investimento é devido à especulação imobiliária. Os preços de terrenos, casas e apartamentos em lugares que possuem uma rede de infraestrutura que conta com saneamento básico, energia elétrica, internet e transporte multimodal é inviável para as famílias que ganham renda mensal per capita de até R$ 500.”
Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a contadora e administradora Dina Prates, de Porto Alegre (RS), avalia igualmente a existência de uma culpabilização da pobreza e das pessoas pobres moradoras das comunidades periféricas. Segundo ela, isso se dá a partir de um discurso meritocrático.

“A meritocracia é um discurso muito presente no mundo das finanças. Parte da ideia de que se você não conseguiu aumentar seu salário, entrou na universidade e fez isso ou aquilo, é porque não se esforçou o suficiente. Dentro desse discurso, ignoram que a gente tem que lutar contra toda uma estrutura que só te coloca para baixo, te desumaniza e te violenta o tempo todo.”
Para ela, é preciso aprofundar as discussões sobre as origens da desigualdade social no Brasil.
“É muito fácil falar que as pessoas não acessam à universidade, não acessam à educação quando a gente esquece de falar sobre a violência policial dentro das comunidades, quando não falamos da falta de acesso ao transporte público, coisas essenciais para que possamos alcançar outros caminhos e objetivos.”
Com a culpabilização da pobreza, Dina observa uma atribuição relacionada às dívidas.
“As pessoas pobres endividadas passam a ser culpadas, se descaracterizando e esquecendo que no Brasil existem problemas estruturais, salários e relações trabalhistas desiguais permeados pelo gênero e pelo racismo, além da falta de acesso à educação financeira nas escolas”, afirma.
Assim como Dina, a economista Mila Gaudencio, da zona sul de São Paulo, fala sobre a economia a partir de um olhar sobre a história brasileira.
“Eu sou uma mulher preta, economista fruto de ação afirmativa e sei que minha história financeira carrega toda a estrutura de um país construído na base da escravidão, da desigualdade. Falar de educação financeira é entender como os comportamentos afetam os resultados financeiros, mas também perceber que existe uma história e uma bagagem ancestral.”

Mila Gaudencio é economista e dá formações sobre educação financeira a diferentes públicos (Foto: Arquivo Pessoal)
Ao partir dessa análise sobre um Brasil cuja estrutura financeira e a riqueza foram construídas em cima da escravização dos povos africanos, Dina acrescenta que a lógica da exploração escravagista permeia as relações de trabalho até hoje.
“Continuam desvalorizando a mão de obra das pessoas negras e o trabalho produzido por elas. Um trabalho que permanece tendo que ser gratuito, disponível ou mal remunerado. Sem falar da influência da escravidão no acesso à educação e ao mercado de trabalho, que permanece extremamente desigual.”
Dina, pesquisadora negra, é a segunda pessoa de sua família a acessar a universidade e a primeira a ter mestrado.
“Precisamos pensar sobre o impacto que isso tem economicamente no Brasil, a gente está falando de uma nova mão de obra, que é extremamente qualificada e que, mesmo assim, ainda não é reconhecida, não é legitimada”, finaliza Dina.
Bancos comunitários nas quebradas
O Banco Bem completa 17 anos em 2022. Como importante fortalecedor da economia e do desenvolvimento em periferias de Vitória (ES), o projeto ajuda na abertura de contas, crédito para iniciativas empreendedoras locais, de consumo e habitacionais.
Ao longo da sua trajetória, o banco emprestou R$ 2,6 milhões a cerca de 600 famílias, bem como estabeleceu uma relação com 31 mil habitantes no território envolvendo nove comunidades periféricas.
Na plataforma E-dinheiro Social, por onde circula a moeda social digital, existem em torno de 1.000 pessoas cadastradas no Banco Bem.
As moedas sociais têm como propósito estimular o desenvolvimento da economia de comunidades, como explica o Banco Central (BC).
“São instrumentos complementares à moeda oficial e podem ser utilizadas como instrumentos de políticas públicas de finanças solidárias para amenizar os efeitos da escassez de dinheiro em poder do público”, afirma o BC em seu portal na internet.
No estado do Espírito Santo existem 12 bancos comunitários e a Rede Desenvolver de Bancos Comunitários. Eles mantêm a sua estrutura através de editais de fomento às finanças solidárias.
Coordenadora do Banco Bem, Geisiele Cassilhas, moradora do bairro de Itararé, umas das novas comunidades que compõem o chamado ‘Território do Bem’, na cidade de Vitória (ES), explica que a ação é uma oportunidade para as famílias de baixa renda serem incluídas no sistema bancário.
Segundo o Banco Central, inclusão financeira é o “processo de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida.”
O tema é relevante porque, mesmo com o crescimento das fintechs (startups de tecnologia e finanças que vêm ampliando a inclusão financeira com a oferta de contas gratuitas), ainda existem 16,3 milhões de brasileiros desbancarizados, ou seja, que não têm conta em banco, como mostra a pesquisa do Instituto Locomotiva, com dados de janeiro de 2021.
“Temos um banco comunitário que empresta para pessoas com ou sem nome no SPC, que promove ações na comunidade, faz um processo de saber quanto cada família ganha para desenvolver a região. O banco faz uma política de crédito, captação de fundos e o processo de gestão é comunitário. Chamamos isso de tecnologia social”, detalha.

Apesar dos avanços, Geisiele relata que existem dificuldades para manter a estrutura de uma equipe em funcionamento.
“Todo ano temos dificuldade de manter uma equipe de trabalho. Quando não sai edital para conseguirmos manter os agentes de desenvolvimento comunitário, chegamos a trabalhar de forma voluntária para não fechar. Precisamos de políticas públicas voltadas para os bancos comunitários para que esse trabalho tenha continuidade”, cobra o governo capixaba.
Desenvolvimento territorial
O Banco do Povo Crédito Solidário (BPCS) de Santo André, no ABC paulista, completou 24 anos em 2022.
O projeto nasceu da proposta de promover políticas públicas de geração de renda, inclusão e desenvolvimento local.
À frente da iniciativa estão o Sindicato dos Trabalhadores Bancários do ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC e a Associação Comercial e Industrial de Santo André.
A proposta alcançou ainda a cidade de Campinas, no interior paulista, visando a geração de emprego e renda da população a partir da concessão de linhas de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos.
“O banco movimenta e economia local, ajudando com crédito as pessoas mais pobres, que estão fora dos sistemas de bancos tradicionais. É preciso considerar que os grandes bancos são seletivos e nem sempre aprovam crédito à população mais pobre”, afirma o dirigente do Sindicato dos Bancários do ABC e da CUT-SP, Belmiro Moreira.
Significa levar cidadania e dignidade às pessoas periféricas, completa o diretor Executivo do Banco do Povo, Fábio Maschio Rodrigues. “O banco cumpre um papel fundamental de ajudar os mais pobres e, com isso, movimentar e economia, principalmente em momentos de crise como o que vivemos.”
Empreender no Vidigal
Morador da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, Luciano da Silva Faustino, 36 anos, é fundador da ‘Vidigal Beer’, uma cervejaria criada na comunidade, que insere aos moradores e ao mundo um novo conceito de cervejas artesanais.
A proposta é garantir a produção dentro da comunidade, promovendo fonte de renda, geração de empregos locais e utilização de materiais sustentáveis.

A iniciativa cresceu com maior força há três anos, a partir de uma parceria com a ONG Favela INC.
“Produzo cerveja há cinco anos, mas era apenas um hobby. Com o tempo, percebi que poderia participar de um projeto social junto com a ONG, usando a cerveja como instrumento para causar impactos positivos dentro da favela, uma área abandonada pelos governantes”, observa Luciano.
O empreendimento conseguiu uma parceria com uma empresa norte-americana para o desenvolvimento do turismo local. “Conseguimos ter uma renda recebendo pessoas de fora. Melhorar a economia no Vidigal é melhorar as nossas vidas”.
A produção média é de 150 litros por mês. Existe ainda o cuidado ambiental, além de importantes parcerias que se despontam.
“A Vidigal Beer trabalha com garrafas totalmente recicladas de lugares da comunidade, usando rótulos de papel biodegradável, e produz biscoitos com o malte que sobra. Conquistamos recentemente uma parceria com a multinacional Ambev, que irá produzir 12 mil litros de nossa cerveja para comercializar em qualquer lugar do Rio de Janeiro.”
Responsável por muitos avanços em projetos sociais e de geração de renda na zona sul do Rio de Janeiro, o norte-americano Adam Newman, morador do Vidigal há uma década e fundador da ONG Favela INC, fala com orgulho sobre ações que prosperaram na comunidade a partir de um trabalho envolvendo inovação social, educação financeira e empreendedorismo.
“O Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas morando em favelas e essas pessoas movimentam em torno de R$ 120 bilhões por ano. É um volume de renda maior que 20 dos 27 estados no Brasil. Então afirmações de que não tem dinheiro na favela, que favelado não sabe ganhar dinheiro, que não existe como ganhar dinheiro na favela, são extremamente erradas”, afirma Newman, ao trazer dados da pesquisa “Economia das Favelas – Renda e Consumo nas Favelas Brasileiras”, desenvolvida pelos institutos Data Favela e Locomotiva, divulgada em 2020.
Newman descreve o empreendedorismo como uma ferramenta de sobrevivência. “As pessoas estão confrontando desafios complexos com o mínimo de recursos disponíveis para solucionar os seus problemas com prazos curtos para encontrar soluções para sobreviver. O empreendedorismo é isso. Os ‘cria’ de favela vivem fazendo isso, especialmente as mulheres, fazendo milagres com poucos recursos, viabilizando grandes movimentos.”
Há 10 anos, Newman relata ter conversado com fundos de investimentos no Brasil que descartaram a possibilidade de apoiar ações na favela chegando a dizer que “favelado é burro” e que as chamadas startups ‘unicórnio’ jamais nasceriam nas quebradas.
“Hoje, a gente vê uma realidade diferente, uma classe econômica em crescimento, que tem alcançado conhecimento e oportunidades de recursos que precisa e merece para participar da economia brasileira. Economia não é coisa só de asfalto, é também do morro, das favelas, é de todo mundo. A gente vai ver nos próximos anos o quanto a favela é potência econômica”, alerta.
Quebradeiras de coco babaçu
Múltiplas identidades compõem as quebradeiras de coco do Nordeste brasileiro: são agricultoras, ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
Elas vivem na chamada região dos babaçuais, que envolve os estados do Maranhão, do Pará, de Tocantins e Piauí.
De acordo com a Actionaid, existem aproximadamente 300 mil quebradeiras de coco babaçu no Brasil.

São mulheres que exercem o extrativismo do coco babaçu, espécie vegetal com frutos nutritivos que são transformados em sabonetes, azeite e óleo.
Essas mulheres são reconhecidas como grupo tradicional pelo país e fazem parte do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, instituído por meio do decreto nº 8.750, de 2016.
Coordenadora geral do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco (MIQCB), Maria Alaídes de Sousa, atua desde a década de 1960 na organização dessas mulheres em seis municípios no estado do Maranhão.
É um saber tradicional passado de geração em geração. “Nossas avós e mães trabalhavam como quebradeiras de coco, mesmo em propriedades privadas. Foi assim que fomos criadas e criamos nossos filhos. E usamos a palmeira para tudo. Quando a gente não tinha o ‘Minha Casa, Minha Vida’, as nossas casas eram todas cobertas de palha do babaçu com paredes feitas com a palha e esteiras de palha que viravam as nossas portas e janelas.”
A luta em defesa do coco babaçu sempre foi protagonizada por mulheres; os homens se somaram apenas depois, segundo Maria.
“Lutamos pela conquista da terra e contra a derrubada de nossas palmeiras. Uma resistência antiga que lá atrás se dava contra fazendeiros que impediam a entrada nas terras e contra os vaqueiros que juntavam o coco que caía das palmeiras e colocavam na frente na casa da fazenda para impedir o uso.”
Segundo Maria, esse processo exigia negociações e, por vezes, até episódios de humilhação das mulheres. “A gente pedia para quebrar de meia. Pegávamos o coco e se produzíssemos 10 kg, dávamos 5 kg para o fazendeiro e o vaqueiro. Era uma forma de escravização, enquanto eles se beneficiavam da nossa força de trabalho”.
De acordo com a coordenadora, esse saber tradicional transmitido de forma oral entre gerações sempre sofreu ataques.
“Somos poucas assentadas com terra. A grande dificuldade hoje é conciliar a sobrevivência e a preservação ambiental, principalmente com o agronegócio que envenena tudo com a monocultura. Envenenam nossos rios e as nossas palmeiras.”
Atualmente, alguns municípios maranhenses, como Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, São Luiz Gonzaga e Esperantinópolis têm lei de acesso livre que libera as mulheres a entrar nas propriedades privadas para pegar o coco e quebrar em casa.
Elas fazem a quebra em casa como forma de aproveitar toda extração do coco, sem desperdiçar nada que a palmeira oferece. Essas leis fazem com que as cancelas das fazendas não sejam fechadas.
“Isso não significa uma luta concluída, está sempre em ação. Não temos uma lei estadual e nem federal por conta da proteção da propriedade privada. Isso é o que ouvimos e seguimos fazendo esse enfrentamento.”
Durante a pandemia, Maria relata que medo e dor tomaram as mulheres, mães e comunidades tradicionais. Além do luto vivido pela morte de muitas pessoas, elas resistiram em seguir sua produção, garantindo a sobrevivência das suas famílias durante o momento de crise.
“Não deixamos de coletar o coco e fazer reuniões virtuais, mas passamos dificuldades diversas. O governo de Bolsonaro foi cruel com o povo brasileiro e as mortes na região têm tudo a ver com decisões tomadas com relação às vacinas e outras políticas que não olharam para o povo”, lamenta.
Passada a crise mais aguda da pandemia, quando as mulheres tiverem que se unir ainda mais, elas já discutem as perspectivas para 2023.
“Esperamos avançar nas negociações com incidência no acesso livre nas fazendas, na regularização fundiária, na educação contextualizada com formação para novas lideranças, organização da produção e comercialização”, afirma Maria.
Atualmente, a renda das quebradeiras de coco varia de acordo com as formas de organização local, de condições de negociação, de estrutura de cooperativa.
“O quilo do coco do babaçu depende de cada região, podendo variar de R$ 2,50 a R$ 4 aproximadamente. Existem localidades que precisam avançar na forma de produzir e comercializar para ampliação de renda.”
De acordo com Maria, a formação financeira que conseguiram realizar com mulheres na região, a partir da organização local, ajudou em aspectos distintos na forma de reinventar o jeito de aprimorar a economia das quebradeiras de coco.
“Passamos a repensar a produção de nossos relatórios, nossos planejamentos e até mesmo as compras de produtos como pequenas forrageiras para moer o coco e ajudar na produção manual. Antes torrávamos na panela, pisávamos no pilão, voltávamos a cozinhar na panela para ter o azeite. Essas ferramentas hoje modernizaram nosso trabalho. Não é uma tecnologia de ponta, mas é uma tecnologia social, misturada com nossos conhecimentos”, finaliza.
Mutirão vivo em terras tradicionais
Povos indígenas do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sul do Brasil e do Paraguai e do Peru têm promovido trocas e discussões sobre práticas de vida e alternativas de autossustentabilidade alimentar e econômica em suas comunidades.
Marline Dassoler, do Conselho Indigenista Missionário, explica que a ação é uma alternativa de soberania alimentar e renda dos povos da floresta, valorizando sementes, árvores nativas e os sistemas agroflorestais (SAFs).
“A experiência visa a defesa do território, o resgate das formas de cultivo tradicional e o cuidado integral da Mãe Terra e suas formas de vida, água, ar e biodiversidade.”
Entre 2019 e 2022, encontros presenciais e virtuais ocorreram entre os povos Akroá-Gamela e Tremembé (MA); Guarani Mbya (SC); Guarani Nhandeva (PR); Bororo, Karajá, Enawenê-Nawê, Myky, Chiquitano, Xavante, Tapirapé e Rikbaktsá (MT); Terena e Guarani e Kaiowá (MS); Apurinã e Kambeba (AM); Amauako, do Peru, e Pay Tavyterã, do Paraguai.
Essas ações passaram a ser conhecidas como “mutirão vivo” ou “aulas vivas”. Um dos participantes foi Alzanir Omágua-Kambeba, 51, morador de Benjamin Constant (AM).
Segundo ele, esses encontros se realizaram a partir de uma metodologia intitulada “escassez e abundância”, dois conceitos trabalhados na formação teórica e prática dos povos originários.
“A escassez se refere à falta de alimento, à ausência da manutenção da floresta e da cultura do cultivo, diante de um governo que incentiva a monocultura e os agrotóxicos. Importante lembrar que a gente não plantava antigamente só mandioca na roça, ou só abacaxi, mas uma diversidade de alimentos”, ensina.
Já a abundância, segundo ele, abrange a preservação dos rios e solo, o respeito à floresta e à diversidade e a manutenção da saúde e da vida das populações.
“Até quando vamos conseguir manter nossa abundância diante da imposição do agronegócio e com a presença do garimpo ilegal que nos ameaça? Vemos cada vez mais uma escassez que se dá por ausência de políticas públicas básicas de saúde, de saneamento, de educação, de manutenção de línguas próprias de alguns povos indígenas”, denuncia.
De 2018 a 2021, mesmo com as dificuldades da pandemia de covid-19, Alzanir Omágua-Kambeba coordenou no Amazonas o projeto “Soberania Alimentar e Ambiental dos Povos Indígenas e Não Indígenas do Alto Solimões”, envolvendo 74 famílias indígenas e não indígenas.
Como resultado, foram construídos 74 cultivos diversos de alimentos (os SAFs) e 34 cozinhas nativas.
Os denominados SAFs correspondem, de acordo com Alzanir, ao próprio sistema agroflorestal já vivenciado pelas populações indígenas há séculos.
“Nosso modelo é de respeito à ancestralidade, não um modelo desenhado pelo branco. Não usamos o fogo, a gente roça, tomba os matos menores, depois os maiores, planta os alimentos, pica o mato todo em pedaços pequenos para que ele proteja o solo. Depois, ele vai se decompor e ajudar na adubação do que for cultivado na área. Seguimos o ritmo da própria floresta”, esmiúça.
Já a cozinha nativa consiste no que os povos chamam o processamento de alimentos.
“Não adianta elaborar um projeto de vida, estruturar um SAF e não produzir o alimento de forma saudável. O peixe é alimento saudável, mas se for frito no azeite diariamente, vai deixar de ser saudável. Existem formas tradicionais de fazer ele cozido ou assado, que vão impactar positivamente na saúde da população.”
Alzanir destaca ainda a importância da soberania alimentar, um conceito que envolve desde a garantia sobre a origem do alimento até a diversidade de alimentos na floresta.
“Consideramos desde a importância das hortaliças e de árvores frutíferas até as madeiráveis (madeiras de lei), como pau-brasil e a castanha de paca”, explica.
Além da garantia de subsistência às famílias, a educação financeira também faz parte da formação nas comunidades.

O representante do povo Omágua-Kambeba relata que a comercialização local dos alimentos excedentes da produção já acontece, mas alguns desafios precisam ser superados.
“A comercialização depende do apoio do governo local, estadual e federal. Temos entre as nossas potencialidades o açaí, a macaxeira (mandioca) e a banana. Mas não conseguimos escoar a produção. E sabemos da importância de ampliar nossas vendas e ampliar a geração de renda das famílias, já que têm coisas que não vêm do roçado, como roupas, sapatos, transporte e equipamentos”, aponta.
Passadas as eleições no país, ele defende que os governos promovam iniciativas para a manutenção dos trabalhos realizados pelos mutirões vivos em todo país.
“Sonhamos em produzir sem queimar e sem desmatar, garantir a nossa autossustentabilidade e manter as nossas florestas em pé”, destaca.
Governo federal
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade autárquica vinculada ao Ministério da Economia, tem ofertado formações gratuitas em sua plataforma virtual.
Em sua página na internet, disponibiliza cursos sobre ‘Matemática Financeira’ e ‘Educação Financeira para Jovens’. Segundo a entidade, mais de 4 mil pessoas já se inscreveram nas formações.
Além disso, foi desenvolvido o site ‘Meu Bem-Estar Financeiro’, que “fornece ferramentas financeiras para orientar as pessoas a tomar melhores decisões financeiras, principalmente neste momento de futuro incerto decorrente da pandemia da covid-19.”
Também há uma parceria realizada entre a CVM e o Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos sobre educação financeira a professores do ensino fundamental no Brasil.
Tal iniciativa integra o Programa Nacional de Educação Financeira nas Escolas, cuja meta é capacitar 500 mil professores. Os cursos são gratuitos e, para se inscrever, é preciso acessar o site e clicar no item “Cursos”, no menu principal.