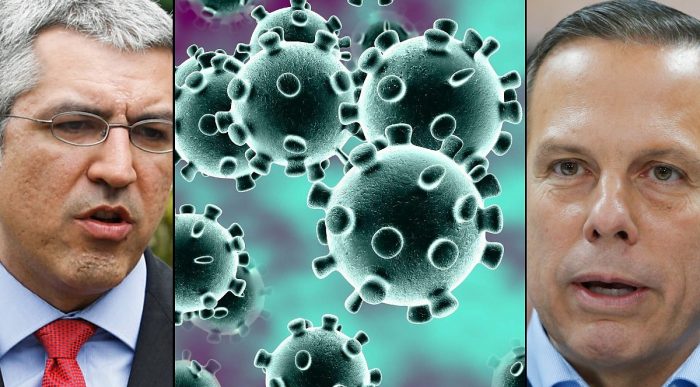Abandono, desamparo e doenças agravam punição às mulheres nas prisões brasileiras
Esquecidas, deprimidas, desassistidas e praticamente sem acesso a exames preventivos, a maioria desenvolve doenças que dificilmente são tratadas
Publicado 16/03/2020 - 07h36

São Paulo – O abraço do médico Dráuzio Varela em Suzy, uma mulher trans condenada por estupro e assassinato, que foi ao ar em um programa da Globo há mais de duas semanas, causou empatia e admiração seguidas de indignação e revolta. E trouxe à tona um outro lado sombrio da vida no cárcere que só quem tem o corpo e a alma de mulher conhecem: a solidão.
O abandono por parte de familiares, parentes e amigos é um traço comum no perfil das mulheres privadas de liberdade no país. Ao contrário dos homens, que continuam recebendo visita de mães, irmãs e companheiras, elas acabam esquecidas. Quando muito, são visitadas pelas mães.
As origens da solidão, que passa a ser sua companheira de todas as horas, está no machismo, que espera do homem a quebra de regras, e da mulher, o comportamento recatado, silencioso, quase invisível. Que ela seja como uma flor, um repouso para o marido e os filhos. E não que entre em conflito com a lei, conforme o médico Francisco Job Neto, de Brasília.
“A lógica é semelhante à da maioria das famílias. O filho adolescente pode beber, tirar racha e ter relações sexuais livremente. Já o comportamento da filha tem de ser diametralmente oposto. Não pode falar palavrão, nem se expor. É essa mesma lógica que pune a mulher que comete delitos que explica o abandono pela própria família”, diz o médico Francisco Job Neto, que percorreu presídios e analisou dados disponíveis dos sistemas de informação de saúde e prisional para o seu doutorado sobre epidemiologia das doenças infecciosas no sistema prisional, defendido ano passado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Depressão
O abandono e a dificuldade de restabelecer redes de apoio externas estão entre as principais causas do desenvolvimento de depressão grave, segundo o médico. Ele cita dados de uma pesquisa coordenada pelo psiquiatra Sérgio Baxter Andreoli, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que dá uma ideia da dimensão do problema: detectou 25% a mais de diagnósticos psiquiátricos graves em mulheres encarceradas em uma prisão feminina de São Paulo em comparação a amostra masculina.
O dado é preocupante porque a doença está associada a outras condições crônicas igualmente graves, como ansiedade, transtornos afetivos, como a bipolaridade, entre outras, que constituem risco de suicídio e danos psicossociais que exigem serviços especializados – praticamente inacessíveis na estrutura carcerária.
É por isso que no cárcere a taxa de suicídio é muito maior que do lado de fora. Chega a ser 20 vezes maior segundo o Relatório Temático sobre Mulher Privada de Liberdade, publicada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justica, já no governo de Jair Bolsonaro. Em 2015 foram registrados 2,3 suicídios para cada grupo de 100 mil mulheres do total da população. Entre as presidiárias, a taxa foi de 48,2.
As presas também estão muito mais sujeitas a outros transtornos, como os relacionados ao uso de drogas, psicóticos e de bipolaridade, conforme a mesma pesquisa da Unifesp. Para completar, são vítimas frequentes de discriminação e humilhação, o que traz instabilidades na convivência devido às mudanças comportamentais associadas a distúrbios psiquiátricos.
“São mulheres que deveriam estar sendo tratadas, mas se não existe sequer atenção básica à saúde, com posto de saúde, fazendo o atendimento preventivo de doenças, de promoção à saúde, muito menos saúde mental. Se a gente colocasse um caminhão de rivotril nas prisões, esse seria consumido em um dia só. Na prisão, as pessoas como um todo têm nível altíssimo de ansiedade, patologia relacionada com a depressão”, diz Job Neto.
Sistema infectado
Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) aponta que em 2014 o Brasil mantinha 37.380 mulheres cumprindo penas em privação de liberdade. Em 2018 já eram 42.355 – uma superlotação que leva a um déficit de 15.326 vagas.
Espremidas em um ambiente hostil e insalubre, pouco ventilado e mal iluminado, estão vulneráveis a diversas doenças devido à alimentação inadequada, as noites mal dormidas,o estresse, o medo, a higiene corporal mal feita e a falta de atividade física regular. Com a obesidade, ou mesmo a desnutrição, surgem a tuberculose, sífilis, HIV, hepatite, diabete, hanseníase, pressão alta e outras derivadas de todas essas condições. Sem contar o câncer, que pode surgir devido à falta de exames preventivos.
Não há estatísticas nacionais sobre a incidência de doenças entre população encarcerada feminina. A que chega mais perto é o Levantamento Nacional de Informações penitenciárias (Infopen Mulheres) – publicada em 2018, com dados referentes a dezembro de 2015 e junho de 2016. É uma publicação que antecede o Relatório Temático de Bolsonaro. Mas as informações não refletem a realidade de todas as unidades.
Segundo o documento, para cada grupo de mil encarceradas havia uma taxa global de 31 portadoras do vírus HIV, 27,7 com sífilis, 8 com hepatite e 3,3 com tuberculose. Os dados disponíveis permitem estimar que no interior das prisões femininas a taxa de incidência de doenças é muito superior à taxa global nacional. No caso do HIV corresponde a 169 vezes, em hepatite, 144, em sífilis, 36, e em tuberculose, 9,8.
O levantamento é genérico quanto à mortalidade e não aponta as doenças causadoras. Limita-se a apresentar taxas referentes a óbitos naturais, criminais, suicídios, acidentais e causas desconhecidas.

Não há dados sobre diagnóstico, prevenção e tratamento, apenas sobre consultas realizadas externamente, no próprio estabelecimento, consultas psicológicas, odontológicas, exames e testagens – sem especificar –, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos, como suturas, que respondem por 31% do total de atendimentos. É o ambiente hostil e violento no interior da prisão.
Pelos dados disponíveis, é de se supor que o principal método para prevenir o câncer de colo de útero – o terceiro mais frequente e quarto mais letal dos que afetam as mulheres –, é praticamente um artigo de luxo para as detentas.
Uma pesquisa do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), publicada em 2016 revelou que a realização do exame foi referida por 26,3% das presas entrevistadas em um presídio do interior paulista. Os pesquisadores, que analisaram fichas e conversaram com as detentas no período de agosto de 2012 a julho de 2013, concluíram que é baixíssima a cobertura do teste conhecido como papanicolau.
O rastreamento do câncer do colo uterino é oferecido no serviço público de saúde às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. A rotina recomendada no Brasil pelas autoridades de saúde é a repetição do papanicolau a cada três anos após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano.
Em um país em que boa parte da sociedade acredita no lema de que “bandido bom é bandido morto”, os dados do levantamento da UFMA apontam um aumento no número de mulheres encarceradas sem condenação. De 2014 a 2018 a taxa subiu de 30,1% para 45% da população feminina presa. A situação se agrava, segundo os pesquisadores, quando se constata que apenas 27% das unidades femininas são destinadas às presas provisórias. E que no estado do Amazonas, a porcentagem de mulheres sem decisão condenatória chega a 81%. “No entanto, o levantamento não oferece nenhuma hipótese que justifique um número tão alto de presas provisórias”, destacam.
Se tem unidade, falta médico
É o que mostrou um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) feito ano passado para uma ação civil pública contra o governo e a prefeitura sobre as mortes em presídios do Rio, que aumentou dez vezes em 20 anos. Segundo a defensoria, quando há serviço de saúde nas prisões destinadas às mulheres, o número de médicos ginecologista é insuficiente.
O documento não traz não traz informações sobre atendimentos médicos realizados e nem da taxa de doenças que acometem as mulheres. E afirma que “a oferta de ações voltadas à atenção à saúde no âmbito do sistema prisional tem acontecido por meio de ações executadas diretamente pelos Municípios, Estados e Distrito Federal e através da articulação entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde, elaboradas à luz das diretrizes e estratégias seguidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Diz ainda que “todas as Unidades Federativas aderiram à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)” e que o atendimento é realizado por meio das equipes de saúde habilitadas financiadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Ao lado da Constituição, da Lei 8.080/1990, que regula o SUS e a Lei 7.210/1984, a Lei de Execução Penal, a PNAISP é mais um instrumento constituído para garantir o direito à saúde da população privada de liberdade.
Mas não é bem assim. Coordenador da Área Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde de 2011 a 2015, com extenso currículo no setor, Marden Marques Soares Filho participou da construção e implementação da Política.
Ele conta que todos os estados já aderiram, mas nem todos os municípios. “Aderir significa se comprometer com a implementação de equipes de saúde dentro do sistema, dentro da lógica da atenção primária. Mas além de haver a adesão, tem de haver recurso do Ministério da Saúde para expansão das equipes”, explica Marden, atualmente coordenador da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória na Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro.
“Mas sem dinheiro não há política. Quando o município adere, tem de ter contrapartida do estado também. Então depende de recursos que têm de ser alocados pelos dois entes. O município tem de participar porque atenção básica é sua competência. O preso é contado como munícipe. Ele tem responsabilidade sobre o preso. A gente trouxe o viés de
municipalizar”, diz.
Ele conta que a PNAISP insere a saúde da mulher no território de saúde, ou seja, estabelece a criação de unidade de saúde no presídio, em articulação com outras públicas de saúde materno infantil, como a Rede Cegonha, que envolve pré natal, referência para parto e puerpério.
E que as ações são implementadas por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Há boas experiências no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pernambuco, todas realizadas de 2007 para cá. Entre elas, a do presídio feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre (RS). Ali há brinquedoteca e banco de leite equipado e espaço para amamentação, que recentemente foram até reformados.
“A saúde da mulher tem de estar atrelada aos exames periódicos, em uma rotina com a presença de equipe do SUS da unidade”
Marden Marques