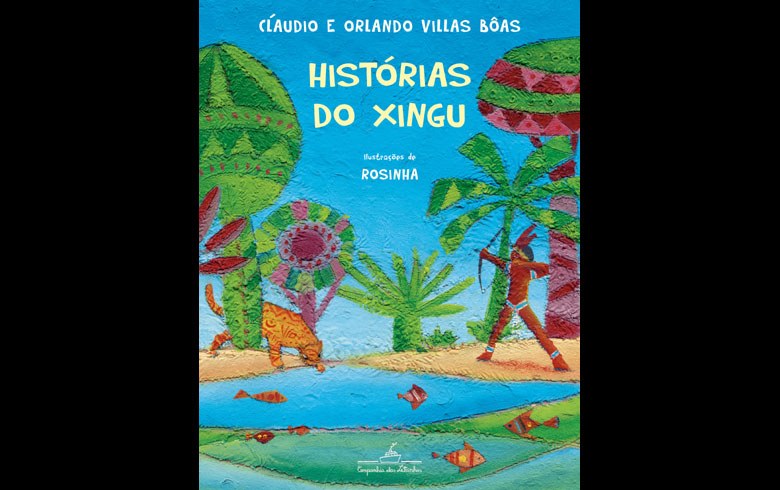Selvagens? Desde pequeno sempre torci pelos índios
Ademir Assunção
Publicado 13/10/2013 - 08h34
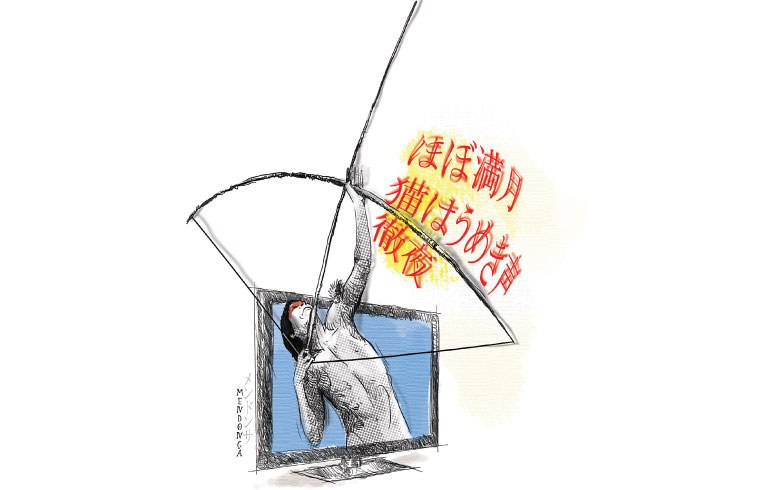
Quando brincava de Forte Apache com um amigo rico (pelo menos para as minhas condições era um amigo rico, filho de médico), eu ficava com os índios. Quando via filmes de bangue-bangue, torcia pelos índios. Gostava dos tacapes, das flechas, dos cocares, das roupas com franjas e, principalmente, da bravura. Os soldados, sempre com fardas impecáveis e botas de cano longo, vinham com rifles. Os índios iam de flechas, lanças e tacapes. Alguns tinham rifles. Mas a maioria tinha armas de índio. E eu ficava intrigado com o olhar firme dos caciques. Dava a impressão de que eles sabiam algo que os generais não sabiam.
Quando tinha uns 11 anos, ouvi no rádio uma leitura da famosa Carta do Cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos. Nunca esqueci. Havia uma sonoplastia que reforçava as palavras do cacique. Lembro do longo mugido do trem num trecho em que ele falava dos tiros que vinham das janelas do cavalo de ferro e abatiam os bisões nas pradarias. O cacique dizia que não podia entender por que os brancos atiravam nos bisões, se não era para comê-los. Por que atiravam nos bisões e os deixavam ali, abatidos, agonizantes?
Lembro nitidamente do trecho em que o cacique Seattle dizia ao presidente dos Estados Unidos da América que não compreendia como o Grande Chefe Branco queria comprar as terras indígenas. Ele dizia que ia pensar na proposta do Grande Chefe Branco, porque não tinha outra alternativa: sabia que, se não as vendesse, os brancos viriam com suas armas e tomariam as terras dos índios – como haviam feito tantas e tantas vezes antes.
Mas ele dizia que não compreendia como poderia vender as terras. Era o mesmo que vender o sol ou a lua ou o vento ou a chuva. As terras eram o lugar onde eles viviam, onde se alimentavam e onde enterravam seus mortos. As terras eram a casa deles, mas não pertenciam a eles. Nem a ninguém. Como poderiam vendê-las?
Hoje eu sei: era isso que os caciques sabiam e os generais não sabiam. É isso que os brancos, ávidos por consumir tudo o que estiver ao alcance, até hoje não sabem.
É isso que os Guarani-Kaiowá, acampados na margem do Rio Hovy, quase na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, estão tentando dizer aos pistoleiros, aos fazendeiros, à senadora Kátia Abreu e até mesmo à Justiça, e parece que ninguém está conseguindo entender. É isso o que eles estão dizendo:
“Quando faltar ar, onde é que vocês vão comprá-lo?”.
Droga pesada
Esqueço a tevê ligada depois do futebol dominical. Súbito, acordo com uma indefectível voz em falsete cantando no Faustão: “Gatinha nacional, você tá querendo o quê? Eu quero mexê, eu quero mexê”.
Como dizia minha avó: “Jesus amado! O horror! O horror!”
Deixar a tevê ligada se tornou algo muito perigoso.
Resolvo dar uma conferida na transmissão de um grande festival de rock (ao menos é isso o que a propaganda anuncia) pelo canal e dou de cara com Jota Quest no palco.
Imediatamente, lembro do título do livro de Roberto Mugiatti, publicado pela editora L&PM, em 1984: Rock: do Sonho ao Pesadelo.
Antes de desligar, ainda escuto a revelação bombástica do vocalista: “Vou dizer a vocês, em primeira mão, o nome do nosso novo disco: Funk Funk Boom Boom”.
Definitivamente, manter a TV ligada aos domingos é o cúmulo da autodestruição!