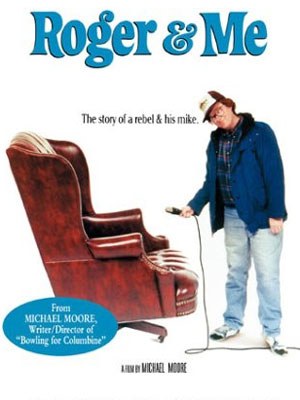Economista prevê onda protecionismo velado após concordata da GM
Para especialista em economia industrial, sindicatos e governos vão exigir que sejam gerados empregos nos EUA a partir de investimentos para recuperação da empresa
Publicado 01/06/2009 - 08h00

Diante do iminente pedido de concordata da GM, até ano passado a líder mundial do setor automobilístico, deve haver uma onda velada de protecionismo partindo dos Estados Unidos e da Europa. Isso porque a recuperação da empresa passa, necessariamente, pela injeção de ainda mais recursos de governos, o que permite aos governos exigir contrapartidas na aplicação do dinheiro público. A avaliação é de Fernando Sarti, professor do departamento do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “Parece líquido e certo que [os governos] não vão financiar um produto novo para ser produzido no Brasil, por exemplo”, avalia.
Apesar de a operação latino-americana ser rentável para a companhia, deve haver impactos da concordata ainda maiores do que o aumento das remessas de lucros.”Não se pode imaginar que uma operação correspondente a 5% do total global não vá sofrer quando a cabeça passa por um fortíssimo processo de reestruturação – se é que vai conseguir sair dessa situação”, pondera.
Caso o processo não liquide as dívidas da empresa, pode restar a saída da incorporação da gigante do setor automobilístico por outra companhia. “A grande preocupação é que os vencedores no Brasil não são os vencedores lá fora”, explica. “Se quem avançar [no mercado global] for uma chinesa ou coreana com pouca participação aqui, tenderia a haver redução do grau de importância das operações brasileiras”, prevê.
Como o governo alemão emitiu sinais de que exigiria a separação das operações europeia e estadunidense, Sarti avalia que seria mais interessante para a divisão latino-americana da GM estar associada ao lado europeu, por afinidade de produtos e, principalmente, porque a matriz dos Estados Unidos deve demorar mais para se recuperar.
O especialista em economia industrial fala ainda da falta que o Brasil sente de ter grandes empresas competitivas neste e em outros setores, o que permitiria mais margem de manobra para enfrentar a crise.
Confira os principais trechos da entrevista:
RBA – Quais seriam os impactos de um pedido de concordata da GM?
A GM tem duas possibilidades. De um lado, pode encaminhar para um fracionamento de suas atividades globais, separando a americana da europeia, mantendo sob júdice o destino das demais. Mas qualquer solução virtuosa pressupõe um fluxo de recursos bastante significativo, que já ocorreu, mas vai ter de aumentar por parte dos governos. O alemão, no caso da Opel, sinalizou que exigiria separação da operação europeia em relação à americana para corrigir a dificuldade de o dinheiro injetado lá ser revertido para os Estados Unidos ou outras unidades, como aconteceu com as montadoras brasileiras.
RBA – O auxílio do governo brasileiro foi remetido para a matriz?
O governo brasileiro saiu irrigando o mercado com crédito do Banco do Brasil e depois da Nossa Caixa, de R$ 4 ou 5 bilhões. O que se observou é que grande parte disso serviu para desovar estoques em todo o país ao mesmo tempo em que houve uma forte remessa de recursos para o exterior. As remessas para o exterior [em 2008] foram mais de US$ 5 bilhões, quando o padrão seria R$ 900 milhões. Sempre existiu uma grande dependência da filial em relação à matriz, que se agrava na crise.
RBA – Qual o impacto de um tipo de plano de reestruturação como esse para as operações no Brasil?
No caso da GM, não se trabalha com o Brasil, mas com América do Sul. Diante desse pano de fundo, a operação Brasil é atraente, lucrativa, recebeu investimento relativamente recente, tem um mix de produtos adequado para o mercado do país. O que ela não pode é funcionar isoladamente, não tem essa independência. O ideal para nós, seria ficar atrelado à Opel, até porque os produtos são muito mais próximos. Seria muito mais negativo ficar do lado dos Estados Unidos, que vai ter muito mais problemas e um prazo de reestruturação muito maior – se é que vai conseguir sair da crise.
Não se pode imaginar que uma operação correspondente a 5% do total global não vá sofrer quando a cabeça passa por um fortíssimo processo de reestruturação. Se é que vai conseguir sair dessa situação. O pedido de concordata é um prazo maior para se reorganizar, renegociar com os credores e uma proposta de liquidação. Se não houver, decreta a falência. O que a GM quer é provar que é viável em termos de produtos e processos, mas mesmo assim depende de aporte de capital importante.
É possível que os governos que fizerem aportes, atrelem a ajuda a algum tipo de contrapartida que nacionalize alguns processos de produção, o que pode ter impacto para o Brasil. Mas é importante dizer que a GM tem um problema estrutural que já vinha há algum tempo.
RBA – Quais são esses problemas estruturais?
Não se pode isolar um único fator para explicar a crise em uma empresa do porte de uma GM. Se você falasse, há cinco ou dez anos, que a maior ou segunda maior empresa do mundo estaria abrindo concordata, ninguém acreditaria. Não é uma situação que vem de uma hora para a outra.
O problema do setor automobilístico nestas empresas, Ford e GM, são anteriores à crise. Havia um problema empresarial, agravado pela crise. Outras montadoras vinham ganhando espaço frente as americanas, em particular as asiáticas. Foi por erros estratégicos, em geral. Claramente, as empresas americanas mostraram uma menor capacidade inovativa, tanto em processos como em produtos. Surfaram na onda do petróleo barato, venderam um item que caiu no gosto do consumidor americano, mas que fica obsoleto diante de uma crise energética e diante de mudanças no padrão de consumo. As asiáticas avançaram em termos de eficiência energética e em capacidade de reduzir custos de produção em ritmo muito maior. Com o mercado mais aberto e mais competitivo, houve acumulação por essas empresas.
Uma outra discussão mais técnica, mas também relevante, é a estrutura de capitais dessas empresas. No padrão americano, os donos são os fundos de investimento, que têm uma lógica muito mais financeira do que tecnológica, o que certamente atrapalhou as empresas para acompanhar o avanço do mercado. A busca de resultados de curto prazo, a valorização das ações etc. com certeza comprometeram as operações.
RBA – Os de fundos de pensão dos sindicatos podem ficar com parte significativa do controle acionário da GM. Em que medida a lógica financeira seria conflitiva com a geração de empregos?
Seriam duas lógicas que podem ser contraditórias. Por um lado, deveriam condicionar a gestão ao emprego. Mas o diretor financeiro desses fundos também estaria preocupado em saber como seriam aplicados os recursos. É uma contradição interessante, e eu não saberia dizer qual das resultantes prevaleceria. É muito mais provável que se encontre um meio termo em que a valorização é importante a médio e longo prazo, mas com a preocupação também do emprego, da capacidade produtiva e de estratégias que a tornem competitiva novamente. Isso seria uma mudança em termos de estratégia, porque não imagino que os sindicatos queiram sair do investimento para, por exemplo, mudar o portfólio. É uma ótima questão para avaliar daqui para frente o perfil de administração.
RBA – Quais as consequências de os governos atrelarem a ajuda financeira à manutenção do emprego no país de origem dos recursos?
Não tenha dúvida de que os governos farão esse tipo de demanda. A pressão vai ser para que os empregos gerados a partir do investimento público sejam no próprio país. Tanto do ponto de vista dos governos quanto dos sindicatos. Vem aí uma onda protecionista, por mais que tentem fazer isso de uma forma não explícita, não transparente, parece óbvio. Parece líquido e certo que não vão financiar um produto novo para ser produzido no Brasil, por exemplo. Mas é difícil esses países admitirem uma prática protecionista, porque os desdobramentos extrapolariam o próprio setor.
RBA – Os trabalhadores da GM na América do Sul e no Brasil teriam alguma posição a assumir agora?
É cedo, porque está em aberto o que seria feito no plano de reestruturação da GM, além das informações sobre fechamento de concessionárias e algumas plantas que constam na proposta atual. Mas pode não ser suficiente. Os investimentos em operações internacionais podem ser um ativo importante para a negociação no caso de uma fusão com outra empresa. O que leva à dúvida de quem seria. Mais ou menos como acontece entre a Fiat e a Chrysler, talvez com a GM seria outra empresa. Isso nos afeta diretamente.
Se o parceiro estiver presente no Brasil, ótimo, porque a relação se refletiria no mercado doméstico. Mas supondo que sejam empresas que não estejam presentes aqui ou que estejam em densidade menor, seria mais indefinido. A grande preocupação é que os vencedores no Brasil não são os vencedores lá fora. A GM é uma das líderes no mercado, a Ford também está em dificuldade, nem a Volks está nadando de braçada. Se a Fiat, que parece estar melhor, sair ganhando nessas mudanças no cenário global, o Brasil ganharia. Mas se quem avançar for uma chinesa ou coreana com pouca participação aqui, tenderia a haver redução do grau de importância das operações brasileiras.
RBA – O fato de o Brasil não ter indústrias nacionais nesse setor deixa o país mais vulnerável neste momento?
Quando se fala da importância de ter as nossas multinacionais, às vezes as pessoas não entendem o impacto disso. Nada contra haver um capital externo, mas com todas as empresas subordinadas às lógicas de suas matrizes, isso tem impactos sobre a economia. Lógico que, nessa hora, seria muito rico se o Brasil tivesse, em todos os setores de atividade, suas próprias multinacionais. Mesmo concorrendo com as de outros países, nossa reestruturação poderia ser mais tranquila se tivéssemos uma grande empresa no setor automotivo. Sem isso, reduz-se o raio de manobra da política, porque o controle está lá fora.
RBA – O retrocesso da industrialização brasileira nos anos 80 e 90 foi o que impediu que o país tivesse esse tipo de multinacional? Foi a falta de política industrial?
Tem duas questões. Primeiro, o crescimento muito lento nos últimos 30 anos. Outros países geraram riqueza industrial nas últimas décadas e alcançaram um nível mais sólido e parrudo em suas empresas para ter uma atuação também global. Sem crescimento, é muito mais difícil. A política industrial deveria entrar acoplada a um ciclo virtuoso de crescimento, provendo outras capacitações importantes, como tecnologia e escala. Por isso, nossa estrutura industrial hoje está menos diversificada do que poderia ser, o que permitiria um tipo de planejamento e intervenção de política industrial melhor. Embora ainda tenhamos muita coisa, mas poderia ser mais se tivesse havido uma audácia e um planejamento um pouco maior. Tivemos um padrão de inserção econômica e um tipo de política que tiveram impacto sobre nossa estrutura produtiva.